Por Rogério Silva
“Semente de amor sei que sou desde nascença,
Mas sem ter a vida e fulgor, heis minha sentença,
Tentei pela primeira vez um sonho vibrar,
Foi beijo que nasceu e morreu, sem se chegar a dar,”
Não quero mais amar a ninguém de Cartola
“Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento
O poeta está vivo, com seus moinhos de vento
A impulsionar a grande roda da história
Mas quem tem coragem de ouvir
Amanheceu o pensamento”
O poeta está vivo de Frejat e Dulce Quental
O texto, este incansável dizer, acompanha o homem desde os tempos mais primitivos. Nas cavernas, nos papiros, nos livros ou modernamente na internet, dizeres são sempre dizeres.
Falar e escrever simples. Uma pretensão para quem não pode usar desses atributos em suas teses, mas um desejo para quem quer se implicar com o que se propõe falar ou escrever.
É preciso viver o texto no corpo. É assim que vejo como apresentou Peter Greenaway em seu belíssimo filme "O Livro de Cabeceira", (Pillow Book, 1996). Apesar do título, e da transcrição do diário de uma japonesa do século X, Sei Shonagon, em poucos momentos apresenta como suporte da escrita o próprio livro. O suporte é o corpo, a pele seu papel: o corpo de Nagiko, o corpo
de Jerome, dos mensageiros livros-corpos que vão de encontro ao editor. A escrita se faz tão presente perpassa todo o filme e é quase física e material na caligrafia em sua tinta fresca; em ideogramas. A escrita, em sua materialidade, parece quase transbordar pela tela e inscreve nos corpos sentimentos, sensações tão ambíguos como desejo, traição, amor, sedução, prazer, vingança, vida e morte.
Falar e escrever é assim, tem texto e o texto tem o prazer.
“(...) Se aceito julgar um texto segundo o prazer, não posso ser levado a dizer: este é bom, aquele é mau. Não há quadro de honra, não há crítica, pois esta implica sempre um objetivo tático, um uso social e muitas vezes uma cobertura imaginária. Não posso dosar, imaginar que o texto seja perfctível, que está pronto a entrar num jogo de predicados normativos: é demasiado isto, não é bastante aquilo; o texto (o mesmo acontece com a voz que canta) só pode me arrancar este juízo, de modo algum adjetivo: é isso! E mais ainda: é isso para mim! Este “para mim” não é nem subjetivo, nem exsistencial, mas nietzschiano (“no fundo, é sempre a mesma questão: O que é que é para mim? “).”*
Me chama a atenção, que Barthes indica que um entre dois franceses não lê, portanto a metade da França se priva ao prazer do texto, o que seria uma desgraça nacional do ponte de vista humanista, como se recusando o livro, os franceses renunciassem somente um bem moral, a um valor nobre social, denunciando um obscurantismo do prazer. No Brasil, a grosso modo, poderíamos dizer que as cifras são muito mais drásticas se considerarmos a parcela que tem acesso à leitura.
O texto de prazer não é necessariamente aquele que relata prazeres, o texto de fruição não conta uma fruição. O prazer da representação não está ligado ao seu objeto: a pornografia não é segura, não dá garantias. O lugar do prazer textual não é a relação do mimo e do modelo (relação de imitação), mas a do otário e do mimo (relação de desejo de produção)
Num outro sentido, Cícero (post anterior) faz uma proposta de desautoria (que é quando a letra liberta-se, da “profundidade”) que seria um flerte com o que a letra indica. É ela, a letra que liberta-se, na desautoria, da “profundidade” pretendida pelos filósofos de antigamente. Ela, livrando-se do movimento de “essência” contidos nele, o texto. O sujeito fica forçado a suportar os sentidos que impomos.
“Na desautoria não há profundezas, não existem entranhas, não suportam-se análises nas quais tentam-se captar o que “há para ser dito”. Produz-se sentido somente. Signo de signos.”
Como Protágoras, confiamos no lógos, porque lógos é sempre lógos de um fenômeno. Mas então a tese fenomenológica leva aos paradoxos da sofística. Ela implica pertinência do fenômeno ao dizer que não deixa mais lugar algum à distinção entre verdadeiro e falso: segundo a frase de Antístenes, “todo discurso confessa”. Com essa distinção, desaparece também a diferença entre aparição e aparência, ser e não-ser, ou substância e acidente: se o discurso limita-se a confessar, é porque ele diz sempre “o que é”. É mesmo toda a possibilidade de escolher um sentido, um ente, uma frase, uma conduta, um “em vez de” qualquer: ainda mais uma vez, o paraíso fenomenológico transforma-se em seu contrário.
A psicanálise tem que se haver com o que se apresenta, com o discurso, com o texto e com prazer do texto. Há que suportar e acolher o que surge sob a forma de linguagem, na diacronia assim como na sincronia, a determinação do significante para o significado.
* Bartes, Roland - O prazer do texto, pg 19 Ed. Perspectiva
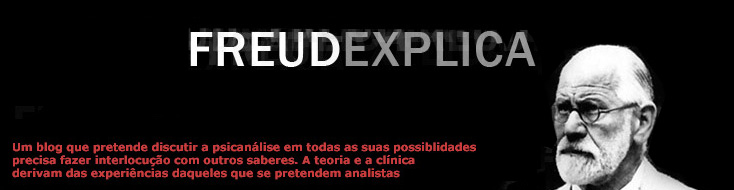

Nenhum comentário:
Postar um comentário